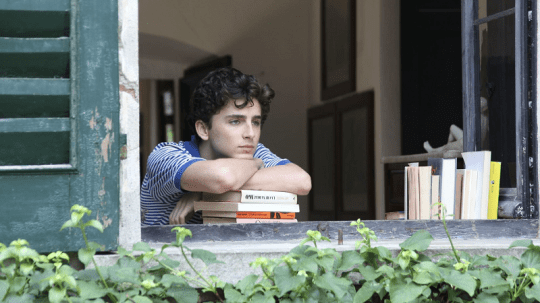Se você é daqueles que pensam que o cinema europeu só é feito de obras cultas, filosóficas e cheias de reflexões existencialistas, você precisa assistir a De Encontro Com a Vida. Apesar do modesto desempenho lá fora, esta dramédia alemã é um daqueles filmes despretensiosos que fazem você sorrir e sair do cinema cheio de esperança. A trama acompanha Saliya Kahawatte, um jovem ambicioso que leva a vida como qualquer pessoa comum de sua idade. Prestes a concluir seus estudos, porém, Saliya descobre ser portador de uma grave doença ocular, que faz com que ele perca quase toda sua visão. Ainda assim, ele decide se candidatar à vaga de estágio em um luxuoso hotel em Munique e realizar seu maior sonho: virar empregado do local. No entanto, as coisas não são tão simples: para não perder a oportunidade de mostrar seu talento, ele terá de se adaptar à sua nova condição enquanto tenta omitir sua “deficiência”.
De Encontro Com a Vida não é um filme inovador e sua fórmula é pra lá de previsível: um personagem que precisa esconder um segredo e viver uma vida “dupla”. Mas isso não desqualifica o longa de Marc Rothemund: pelo contrário, é o tom leve e divertido de sua narrativa que o tornam um título intensamente agradável, cuja única intenção aparente é a de divertir o espectador. O elenco esbanja química, em especial a dupla Kostja Ullmann e Jacob Matschenz (este último, responsável pelas melhores sequências cômicas) e a trilha sonora é deliciosa. O entretenimento, no entanto, é puramente escapista – e aqui encontramos uma lacuna na obra. De Encontro Com a Vida teria potencial para explorar melhor as condições, as oportunidades e os preconceitos que as pessoas com deficiência visual sofrem, mesmo em países supostamente mais desenvolvidos. Prefere, entretanto, focar-se na trama de superação de seu protagonista, nos dando a falsa ideia de que basta você se esforçar que o sucesso virá – e sabemos que, na realidade, não é bem assim que funciona. Ainda assim, De Encontro Com a Vida surpreende positivamente, provando que os europeus também sabem se divertir…