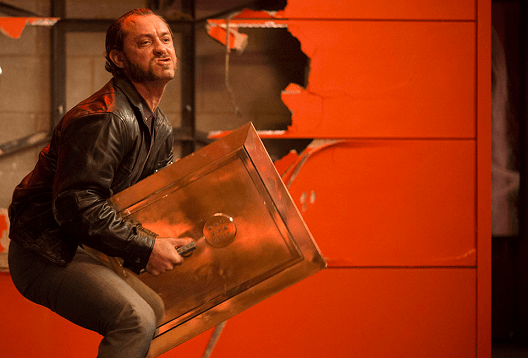Uma música famosa da cantora Pitty já dizia: “Memórias não são só memórias: são fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu nem quero saber…”. Talvez este pequeno trecho seja o que melhor ilustre toda a essência de Oslo, 31 de Agosto, novo filme de Joaquim Trier – lançado inicialmente em 2011 e que chega aos cinemas nacionais nesta semana.
Uma música famosa da cantora Pitty já dizia: “Memórias não são só memórias: são fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu nem quero saber…”. Talvez este pequeno trecho seja o que melhor ilustre toda a essência de Oslo, 31 de Agosto, novo filme de Joaquim Trier – lançado inicialmente em 2011 e que chega aos cinemas nacionais nesta semana.
Oslo, 31 de Agosto narra um dia na vida de Anders, ex-dependente químico à beira da desintoxicação total e que, como parte do programa de reabilitação, é liberado da clínica de tratamento para ir a Oslo, capital norueguesa, para participar de uma entrevista de emprego. Anders, no entanto, aproveita as horas livres para andar pelas ruas da cidade, reencontrando-se com pessoas e lembranças que fizeram parte de sua vida.
A dependência química já é um tema quase batido no cinema. Há muitos clássicos que tratam o assunto (sob diferentes abordagens, claro), como Trainspotting – Sem Limites, de Danny Boyle; Boogie Nights – Prazer Sem Limites, de Paul Thomas Anderson; ou ainda Réquiem Para um Sonho, obra máxima de Darren Aronofsky. Oslo, 31 de Agosto, por sua vez, passa longe da catarse abordada nesses filmes. Não há uma veia enérgica que elucide o comportamento das personagens sob o efeito de drogas. Na contramão, o filme de Trier é muito mais lento e minimalista, delineando a personagem principal enquanto sóbrio, limpo e, aparentemente, livre do vício.
A jornada de Anders durante seu dia livre transcorre pela cidade de Oslo, passando por suas ruas, casas, edifícios e outros lugares que fazem parte das memórias do protagonista. Agora, Anders não luta simplesmente para não sucumbir ao vício, mas também contra os fantasmas do passado que o atormentam. Aos 34 anos, Anders é jovem, tem boa aparência, é inteligente, tem uma família. Apesar disso, algo não se encaixa em sua existência e ele não sabe ainda o que é. Isso reflete um quase desgosto pela vida, um traço marcante da depressão. Pessimista, o filme introduz um olhar na frustração de Anders não com a vida, mas consigo mesmo: a sensação de tempo perdido, o fato de desapontar as pessoas que tanto amava ou mesmo na perda de seu grande amor. Anders claramente demonstra não possuir mais forças para recomeçar pois, além de tudo, o jovem se sente agora inadequado, em um mundo que não parou assim como ele. Anders Danielsen Lie, ator norueguês, tem um ótimo desempenho e que consegue transmitir toda a angústia e melancolia com a qual o jovem tenta retornar à sua vida “normal”. Sob o ponto de vista da personagem principal, a silhueta do ator é essencial ainda para acentuar a vulnerabilidade do ex-dependente diante do mundo que o cerca e que agora é muito diferente de sua época.
A data do título não é uma escolha á toa: é final do verão norueguês – e a grande metáfora aqui é que Anders pode recomeçar tudo novamente ao início de um novo tempo. Obviamente, a grande curiosidade do público é: Anders conseguirá resistir e abandonar de vez o vício? No final, o espectador retorna aos lugares que Anders visitou ao longo dos 90 minutos de duração do filme – mas agora vazios, provocando uma incrível sensação de nostalgia. O impacto causado é doloroso, mas absolutamente bem vindo. Oslo, 31 de Agosto é um grande trunfo de um diretor cujo currículo é muito mais modesto do que o de outros grandes cineastas – e, talvez por isso mesmo, altamente apreciável.